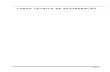UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULARES CENTRO COLEGIADO CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS COMUNICAÇÃO (Jornalismo) COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO T P E TOTAL CAHL312 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 85 85 2015.2 EMENTA Organização e funções da Assessoria de Comunicação. Elaboração, execução e avaliação de planos, programas e projetos de comunicação estratégica.Atividades do Jornalismo, das relações publicas e da publicidade. Comunicação institucional e corporativa. A visão que a mídia tem das instituições e vice-versa. Influências dos veículos de comunicação na gestão das organizações. O jornalista trabalhando como fonte. Das assessorias aos birôs de comunicação. Releases, house organs e outras ferramentas da assessoria de comunicação OBJETIVOS Possibilitar ao aluno um aprofundamento teórico e prático com a atividade de assessoria de imprensa no contexto da comunicação organizacional. Gerar conhecimento e sinergia com o universo da mediação entre instituições e a sociedade. Compreender as virtudes e as idiossincrasias da geração e da difusão de informação jornalística do setor produtivo. Entender o papel do jornalista, do relações públicas e do publicitário no trabalho de comunicação institucional e empresarial. Preparar os alunos para o exercício da atividade de mediação. A assessoria de imprensa como um mercado promissor ao campo de atuação de jornalistas. METODOLOGIA Aulas expositivas e participativas, leitura orientada, dinâmica de grupo, exercícios práticos, discussão de textos e de cases de grande empresas publicas e privadas, exibição de audiovisuais e data show, objetivando a produção de um projeto de comunicação estratégico para clientes reais que serão apresentados em forma de seminários. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1. Apresentação dos conceitos e da origem da atividade de assessoria em comunicação. O que é e como funciona uma assessoria de comunicação. : A história da Assessoria de Comunicação. As primeiras assessorias de imprensa no Brasil. A institucionalização da assessoria de comunicação (Abracom, Aberje, Abracorp, Comunique-se e outras. Panorama da comunicação organizacional e política. Qual é o seu papel, objetivos, formas de atuação. Comunicação interna e externa. O que os meios de comunicação querem e esperam das assessorias de comunicação.comunicação institucional, empresarial, organizacional, governamental, integrada, mercadológica, sindical. A importância da pauta. A importância

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTE
CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS COMUNICAÇÃO (Jornalismo)
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAHL312
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 85 85
2015.2
EMENTA
Organização e funções da Assessoria de Comunicação. Elaboração, execução e avaliação de planos, programas e projetos de
comunicação estratégica.Atividades do Jornalismo, das relações publicas e da publicidade. Comunicação institucional e
corporativa. A visão que a mídia tem das instituições e vice-versa. Influências dos veículos de comunicação na gestão das
organizações. O jornalista trabalhando como fonte. Das assessorias aos birôs de comunicação. Releases, house organs e outras
ferramentas da assessoria de comunicação
OBJETIVOS
Possibilitar ao aluno um aprofundamento teórico e prático com a atividade de assessoria de imprensa no contexto da comunicação
organizacional. Gerar conhecimento e sinergia com o universo da mediação entre instituições e a sociedade. Compreender as
virtudes e as idiossincrasias da geração e da difusão de informação jornalística do setor produtivo. Entender o papel do jornalista,
do relações públicas e do publicitário no trabalho de comunicação institucional e empresarial. Preparar os alunos para o exercício
da atividade de mediação. A assessoria de imprensa como um mercado promissor ao campo de atuação de jornalistas.
METODOLOGIA
Aulas expositivas e participativas, leitura orientada, dinâmica de grupo, exercícios práticos, discussão de textos e de cases de grande empresas publicas e privadas, exibição de audiovisuais e data show, objetivando a produção de um projeto de comunicação estratégico para clientes reais que serão apresentados em forma de seminários.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
1. Apresentação dos conceitos e da origem da atividade de assessoria em comunicação. O que é e como funciona uma assessoria de comunicação. : A história da Assessoria de Comunicação. As primeiras assessorias de imprensa no Brasil. A institucionalização da assessoria de comunicação (Abracom, Aberje, Abracorp, Comunique-se e outras. Panorama da comunicação organizacional e política. Qual é o seu papel, objetivos, formas de atuação. Comunicação interna e externa. O que os meios de comunicação querem e esperam das assessorias de comunicação.comunicação institucional, empresarial, organizacional, governamental, integrada, mercadológica, sindical. A importância da pauta. A importância

da assessoria exercer bem suas funções de comunicação: informar, coordenar, motivar, socializar, expressar e controlar. A ética, a credibilidade e originalidade no desempenho da assessoria.Barreiras na comunicação e as estratégias de abordagem: o jornalista como publico fim e não como público-meio. O assessor como fonte de informação. O mercado de trabalho.
2. UNIDADE II – A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES
A importância da assessoria nas organizações públicas e privadas. Organização, método e principio de uma Assessoria. Como implantar e administrar uma agência de comunicação: montagem, operação e estratégias de uma rede eficiente de informações. A estrutura de uma assessoria de comunicação privada ou pública e seu relacionamento com os mais diversos públicos. . Os recursos físicos e humanos. Instrumentos de trabalho. Procedimentos. As novas tecnologias. Produtos e serviços de uma agência de comunicação. O que é resultado em assessoria de comunicação. Métricas em assessoria de comunicação. Mensuração de preços e serviços prestados por uma assessoria de comunicação. Institutos de verificação de circulação e audiência da mídia (IVC, IBOPE e outros). Análise e avaliação de resultados. O clipping impresso e o clipping eletrônico. As funções de pesquisa e planejamento, pesquisa e análise de mercado. Diagnostico de problemas de comunicação em instituições públicas , privadas e do terceiro setor. Técnicas de comunicação dirigida em mídia impressa e eletrônica. A mídia digital. Campanhas e propagandas.
3. UNIDADE III – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÂO E ASSESSORIA NA PRÁTICA
O planejamento estratégico e integrado do trabalho de assessoria de comunicação. Estratégias de comunicação. planejamento estratégico em assessoria de comunicação. Plano de comunicação. Planejamento estratégico de Comunicação e execução de projetos de comunicação. O que é e como fazer um plano de comunicação/assessoria de imprensa. Estratégia de comunicação para atingir o publico alvo. Como planejar uma divulgação jornalística (o press release: o processo de produção da notícia, a pauta e veiculação. O cConversa com o cliente: o briefing, o planejamento, metas, plano e estratégia, release, deadline, follow up. O que é mídia segmentada. Como identificar e “vender” a noticia, o produto , evitar o “engodo”. O que pode ou deve ser divulgado. Provocar a noticia – a sugestão de pauta. Evitar a noticia, Acompanhar a noticia. A audiência e a noticia. A mensagem e a escolha do canal. O tempo e a noticia. Agenda setting. Comunicados. Encontros informais. Conferências de imprensa: preparação de entrevista (individual ou coletiva), material informativo, local horário, coffe-brak, etc. A importância do Mailling atualizado. Noções de eventos , cerimonial e de planejamento.

AVALIAÇÃO
A avaliação do curso será baseada na participação do aluno nas aulas, provas e trabalhos escritos individuais, elaboração do projeto final e apresentação em seminário.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
FENAJ. Manual de Assessoria de Imprensa. São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf.
MAFFEI, Maristela. Assessoria de Imprensa – como se relacionar com a mídia. São Paulo: Contexto, 2004.
DUARTE , Jorge. Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. Editora Atlas, 2010.
TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002.
COMPLEMENTAR
CHAPARRO, Carlos. A comunicação organizacional e a imprensa: como melhorar o seu relacionamento. Revista Comunicação Empresarial, ano II, nº 41, 4º semestre, 2001. Disponível em: HTTP://www.sinprop.org.br/clipping/2002/149.htl
KUNSCH, Margarida. Planejamento de Relações Públicas na comunicação integrada. São Paulo: Summus, 2003.
KUNSCH, Margarida (org.) . Comunicação organizacional (vol. 1): histórico, fundamentos e processos. São Paulo: Saraiva, 2009.
TORQUATO, Gaudêncio. Comunicação empresarial, comunicação institucional: conceitos, estratégia, sistemas, estrutura, planejamento e técnica. São Paulo: Summus, 1986
VIANA, Francisco. Comunicação empresarial de A a Z. São Paulo: Editora Cla, 2004.
SITES PARA CONSULTAS:
www.aberje.com.br
www.observatorodaimprensa.com.br
www.bocc.ubi.pt

www.comunicaquese.com.br
Docente responsável: Prof. Dr. Sérgio Mattos
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________
Diretor do Centro
____________________________________
Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Comunicação Social- Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA
ANO
T P E TOTAL
CAH
Comunicação, Cultura e Arte Profa. Dra. Renata Pitombo Cidreira
85
85
2015.2
EMENTA
Ementa: A comunicação e a cultura como configuradoras da contemporaneidade. Enlaces entre comunicação, cultura e arte. Temas atuais do debate sobre cultura e comunicação: o local e o global; história e historiografia; identidade cultural; configuração do sentido da vida social pelos mídias. Crítica das tendências culturais contemporâneas. A cultura das massas urbanas e a indústria cultural em seus diversos desdobramentos. Multiplicidade, sincretismo e multireferencialidade da cultura contemporânea. Cultura, arte e consumo. A ideia de arte e o processo criativo.
OBJETIVOS
- Favorecer o entendimento das noções de comunicação, cultura e arte; - Observar a correlação entre os âmbitos da comunicação, da cultura e da arte; - Compreender os processos comunicacionais como elementos agenciadores da cultura; - Compreender os processos artísticos como dispositivos constitutivos da cultura; - Favorecer o entendimento dos processos identitários a partir das dinâmicas comunicacionais;
METODOLOGIA
Aulas expositivas. Apresentação de textos por meio de Seminários.Exibição de material audiovisual: filmes e vídeos, seguidos de discussão. Exercícios práticos realizados em sala.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução Definições de comunicação, cultura e arte Modulo I - A dimensão da comunicação na cultura A interpretação da cultura – Clifford Geertz A comunicação, a mundialização e a cultura – Renato Ortiz A tragédia da cultura – Georg Simmel Modulo II – A dimensão da arte na cultura Definições da arte – Alfredo Bosi

A arte do ponto de vista sociológico – Jean Marie Guyau A arte do ponto de vista filosófico – John Dewey Modulo III – Cultura, arte, identidade e consumo Cultura e identidade – Denys Cuche Arte e consumo – Camila Agustini Moda e arte – Renata Pitombo Cidreira
AVALIAÇÃO
Trabalhos e seminár ios.
BIBLIOGRAFIA
Básica
BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a Arte. São Paulo: Ática, 1985.
CIDREIRA, Renata Pitombo. O belo como complacência universal In A moda numa perspectiva compreensiva. Salvador, Cruz das Almas: EDUFRB, 2014.
DEWEY, John. A Arte como Experiência In Os Pensadores. Trad. Murilo Leme. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1974.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989.
SIMMEL, Georg. A tragédia da Cultura In SOUZA, Jessé e OELZE, Berthold. Simmel e a modernidade. 2 ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2005.
Complementar AGUSTINI, Camila. A vida social da coisas e o encantamento do mundo na Áfr ica central e diáspora In Métis: História e Cultura . v. 10, n. 19, p. 165-185, jan./jun. 2011. CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Tradução de Viviane Ribeiro. 2 ed. Bauru: EDUSC, 2002. GUYAU, Jean Marie. A arte do ponto de vista sociológico. Tradução de Regina Schopke e Mauro Baladi. São Paulo: Martins Fontes, 2009. GREENBERG, Clement. Estética doméstica. Tradução de André Carone. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
JAUSS, H-R. A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária. Trad. Sérgio Tellaroli. SP: Ática, 1994.
MERLEAU-PONTY, M. Textos Escolhidos. Trad. Pedro de Souza Moraes. SP: Abril Cultural (Coleção Os Pensadores, vol.XLI), 1975.
ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. 2 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996.
PAREYSON, L. Estética - Teoria da Formatividade. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
PARRET, H. A Estética da Comunicação. Trad. Roberta Pires de Oliveira. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997.

Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Cinema e Audiovisual
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA
ANO
T P E TOTAL
CAH 235
Estética da Comunicação Profa. Dra. Renata Pitombo Cidreira
68
68
2015.2
EMENTA
As condições da experiência estética proporcionada pelas formas de expressão contemporânea (em tudo que envolve a fruição, a interpretação e a avaliação de seus produtos). Os aspectos sensíveis envolvidos em toda forma de comunicação, inclusive a verbal. O duplo vínculo dos produtos com a história da arte e a experiência ordinária.
OBJETIVOS
Promover a compreensão de que a Estética da Comunicação deve ir além da análise poética das linguagens plásticas contemporâneas e do exercício da crítica dos produtos midiáticos. Ela deve envolver um empenho teórico capaz de dar conta da artisticidade própria desses produtos, associando-os a história da arte, a tecnologia e a experiência cotidiana. Para tanto, será considerada a dimensão da sensibilidade e as dinâmicas perceptivas; o processo artístico e a artisticidade; bem como os aspectos envolvidos na recepção, como o gosto e a crítica.
METODOLOGIA
Aulas expositivas. Apresentação de textos por meio de Seminários.Exibição de material audiovisual: filmes e vídeos, seguidos de discussão. Exercícios práticos realizados em sala.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução Definição, alcance e limitações da “Estética” como disciplina filosófica. Singularidade da “Estética da Comunicação” frente a outras abordagens teóricas do campo comunicacional. Modulo I - A dimensão da sensibilidade na estética Natureza e tarefa da Estética – Luigi Pareyson Percepção e Gestalt – Maurice Merleau-Ponty Estética e sensibilidade – Mario Perniola Modulo II – A dimensão da arte na estética Definições da arte – Alfredo Bosi

As artes na era digital – Monclar Valverde O processo artístico – Luigi Pareyson Modulo III – A dimensão da crítica na estética Funcionalidade e contemplação na arte – Renata Cidreira Recepção e interpretação da arte – Luigi Pareyson Gosto e crítica na arte – Marcelo Coelho
AVALIAÇÃO
Avaliação individual (prova) e seminár ios.
BIBLIOGRAFIA
Básica
BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a Arte. São Paulo: Ática, 1985.
CIDREIRA, Renata Pitombo. Os Sentidos da Moda. São Paulo: Annablume, 2005.
PAREYSON, Luigi. Os Problemas da Estética. Tradução de Maria Helena Nery Garcez. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989. VALVERDE, Monclar. Estética da comunicação. Salvador: Quarteto, 2007.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Conversas – 1948. Trad. Fabio Landa, Eva Landa. São Paulo: Martins Fontes, 2004
Complementar CANEVACCI, Massimo. Antropologia da Comunicação Visual. Trad. Julia Polinésio e Vilma da Souza. SP: Brasiliense, 1990.
COELHO, Marcelo. Crítica cultural: teoria e prática. São Paulo: Publifolha, 2006.
DEWEY, John. A Arte como Experiência In Os Pensadores. Trad. Murilo Leme. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1974.
GREENBERG, Clement. Estética doméstica. Tradução de André Carone. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
JAUSS, H-R. A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária. Trad. Sérgio Tellaroli. SP: Ática, 1994.
MERLEAU-PONTY, M. Textos Escolhidos. Trad. Pedro de Souza Moraes. SP: Abril Cultural (Coleção Os Pensadores, vol.XLI), 1975.
PAREYSON, L. Estética - Teoria da Formatividade. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
PARRET, H. A Estética da Comunicação. Trad. Roberta Pires de Oliveira. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997.
VALVERDE, Monclar (Organização). As formas do sentido. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
WATZLAWICK, Paul et ali. Pragmática da Comunicação Humana. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1993.

Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTE
CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS COMUNICAÇÃO (Jornalismo)
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH
LABORATÓRIO DE EDIÇÃO JORNALÍSTICA
34 51 - 85 2015.2
EMENTA
O jornalismo e o novo contexto tecnológico: a convergência digital. A prática jornalística e as técnicas de edição. Segmentação e especialização de conteúdos e narrativas jornalísticas. Pesquisa, apuração, sistematização e circulação de informações em rede. Projeto e linha editorial. Critérios de noticiabilidade e hierarquização da notícia. Critérios de classificação e seleção de notícias e a relação dos processos com as teorias do jornalismo. Construção e edição de gêneros jornalísticos. Aspectos e recursos gráfico-textuais. Rotinas de produção ligadas à função do editor. Design gráfico. Projeto Gráfico Editorial. Elaboração de produto laboratorial.
OBJETIVOS
Apresentar um conjunto de conhecimentos que capacite o aluno a refletir sobre o papel estratégico da edição jornalística, abordando seus aspectos técnicos e éticos. Preparar os estudantes para as atividades de decisão jornalística ligadas à função de editor e suas implicações na construção da realidade. Discutir e elaborar projetos editoriais.
METODOLOGIA
Aulas expositivas e debates acerca das técnicas mais utilizadas no desempenho da função de editor. Elaboração, edição e apresentação de um projeto editorial gráfico de uma revista experimental pelos alunos. Prática laboratorial orientada pelo professor. Recursos didáticos: datashow, computador, Internet, Laboratório de Impresso.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O processo de edição no jornalismo. Conceituação (gatekeepers e newsmaking; exigência mercadológicas, políticas editoriais) Critérios de noticiabilidade em edição. Arquitetura e hierarquia da informação jornalística. Função do editor (papel estratégico, elementos básicos da edição, dilemas éticos). Edição de notícia (práticas de edição em diferentes meios e plataformas) Projeto e produção gráfico-editorial (o que é e como prepará-lo. Utilização de recursos gráfico-visuais).

AVALIAÇÃO
A avaliação levará em conta a participação do aluno e o interesse demonstrado ao longo do curso. Haverá duas avaliações: a) prova ou trabalhos individuais sobre a literatura pertinente à disciplina, com resenhas de texto específicos; b) Edição de textos jornalísticos (trabalho individual) ;c) elaboração e apresentação de projeto gráfico editorial impresso ou na plataforma digital (individual ou em grupos).
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
BERGER, Christa. Do jornalismo: toda notícia que couber, o leitor apreciar e o anunciante aprovar, a gente publica. in: O Jornal – da forma ao sentido. Brasília: Editora da Universidade de Brasília. Coleção Comunicação, 2ª edição, 2002. ERBOLATO, Mário. Técnicas de codificação em jornalismo – redação, captação e edição no jornal diário. São Paulo, Ática, 2001. LENE, Hérica. Edição Jornalística: objetividade na seleção e classificação. IN: Observatório da Imprensa, edição nº 501, 02/09/2008. (artigo) LOPES, Dirceu Fernandes. (org.). Edição em jornalismo impresso. São Paulo: Edicon. 1998. MEDINA, CREMILDA. Notícia – um produto à venda – Jornalismo na sociedade urbana e industrial. São Paulo: Editora Summus, 1988. PEREIRA JUNIOR, Alfredo Vizeu. Decidindo o que é notícia – Os bastidores do telejornalismo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. SOUSA, Luciane Zuê Z. e . Edição Jornalística: uma prática ainda (in)definida pela teoria. (artigo, PDF) TRAQUINA, Nelson. Teoria do jornalismo – porque as notícias são como são. Vol. 1. Florianópolis: Insular, 2004.
COMPLEMENTAR
BARBEIRO, Hetródoto & LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. BELTRÃO, Luiz. Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Sulina, 1980. FELIPPI, Ângela, SOSTER, Demétrio Azevedo e PICCININ, Fabiana (Orgs.). Edição em jornalismo: ensino, teoria e prática. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. FOLHA DE S. PAULO. Manual de redação. São Paulo: Publifolha, 2007.

MARQUES DE MELO, José. História do jornalismo – itinerário crítico, mosaico contextual. São Paulo: Editora Paulus, 2012. MARTINS, Eduardo. Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo. São Paulo: O Estado de S. Paulo, 1997. MATTOS, Sérgio. Jornalismo Fonte e Opinião. Salvador: Quarteto Editora, 2011.
MATTOS, Sergio. Vida privada no contexto público. Salvador: Quarteto Editora, 2015. O GLOBO. Manual de redação e estilo. org. Luis Garcia. Rio de Janeiro: O GLOBO, 1995. PEREIRA JR., Luiz Costa. Guia para edição jornalística. Petrópolis: Vozes, 2006. PINHEIRO, P. et alii. Edição: conceitos e técnicas. São Paulo: Contexto, 2006.
Docente responsável: Prof. Dr. Sérgio Mattos
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________
Diretor do Centro
____________________________________
Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 300
Oficina de Comunicação Jornalística 85 85
2015.2
EMENTA
A comunicação e a linguagem jornalística. Características do discurso jornalístico em veículos impressos e eletrônicos. Introdução às técnicas de captação de informações e elaboração do texto jornalístico. Estrutura da reportagem, da entrevista e da pesquisa. O vocabulário básico do jornalismo. As linguagens da imprensa, rádio, tevê e portais online
OBJETIVOS
Propiciar ao estudante o desenvolvimento de postura crítica diante dos desafios inerentes ao exercício da profissão; a identificação de acontecimentos e situações capazes de despertar o interesse da sociedade ou de segmento dela; o planejamento da investigação e a apuração de informações jornalísticas junto a fontes diversas; e ainda a elaboração de notas e notícias, com as especificidades da linguagem jornalística.
METODOLOGIA Aula expositivo-participativa;leitura e debate sobre produtos jornalísticos; exercício em sala de aula; prática laboratorial (com desenvolvimento de pauta, reuniões de pauta e apuração com acompanhamento individual).
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I –
- Jornalismo – Entre a técnica e a forma de conhecimento - Identificando os gêneros jornalísticos (informativo, interpretativo e opinativo) - Rotinas produtivas em organizações jornalísticas - Critérios para seleção e hierarquização de informação - Fontes jornalísticas: o que são, para que servem e como se classificam - Apuração: técnicas de captação de informações (observação, entrevista e pesquisa) e suas aplicações - A pauta: entrevista - Entrevista: do planejamento à redação final
UNIDADE II – - Linguagem jornalística – características - Pauta: reportagem - Nota – Características - Notícia e reportagem - Estrutura da reportagem - Tipos de reportagem - Jornalismo em várias plataformas: impresso, TV, rádio e internet
AVALIAÇÃO
Avaliação global, processual, envolvendo frequência, participação, desempenho, criatividade e responsabilidade. Aval iação formal constará de Trabalhos sobre: Elaboração de notas,

noticias, reportagem, pauta e entrevista.
BIBLIOGRAFIA
Básica ERBOLATO, Mario L. Técnicas de Codificação em Jornalismo. 5ª edição. São Paulo, Ática, 2002. LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2003. LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. São Paulo: Ática, 2002. MEDINA, Cremilda. Entrevista, o diálogo possível. São Paulo: Ática, 2004.
Complementar
DIMENSTEIN, Gilberto; Kotscho, Ricardo. A aventura da reportagem. São Paulo: Summus, 1990.
DINES, Alberto. O Papel do Jornal – 6ed. São Paulo. Summus. 1986
FERRARI, Pollyana. Jornalismo Digital. São Paulo: Contexto, 2004.
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1978.
______ Ideologia e Técnica da Notícia. Petrópolis. Vozes. 1979.
MCLUHAN, Marshall. Meios de comunicação como extensões do homem. 11.ed. São Paulo: Cultrix,
2001.
MELO, José Marques de. A opinião no jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1985.
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Contexto, 2002. SODRÉ, Muniz e FERRARI, Helena. Técnicas de reportagem: notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986.
SODRÉ, Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTE
CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS COMUNICAÇÃO (Jornalismo)
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH
015 Oficina de Radiojornalismo I Professora: Rachel Severo Alves Neuberger 34 51 85
2015.2
EMENTA
A história do rádio. Redação, edição e apresentação de radiojornais. Entrevistas radiofônicas. Reportagem externa gravada. Roteiro e script de programas radiojornalísticos. Aspectos legais e técnicos da criação e manutenção de uma emissora de rádio. Fontes de informação. Força de projeção da voz. Respiração. Técnicas de locução jornalísticas.
OBJETIVOS
• Aproximar o aluno de jornalismo do universo radiofônico em termos teóricos e práticos;
• Desenvolver no aluno o interesse pelo veículo rádio devido à sua abrangência social;
• Trabalhar conteúdos radiofônicos teóricos de base, tais como conceitos de radiodifusão, história, ética, tipologia do rádio;
• Produzir material de radiojornalismo (notas, matérias, boletins etc.); e
• Promover pesquisa e eventos de extensão em radiojornalismo, a fim de aproximar o aluno de profissionais de rádio.
METODOLOGIA
• Aulas expositivas (teóricas)
• Aulas práticas em laboratório
• Atividades práticas outdoor
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Radiodifusão;
• História do rádio;
• O poder do rádio como veículo de comunicação;
• Características do rádio;
• Linguagem oral;
• Linguagem radiofônica;
• Redação;
• Locução gravada
• Locução ao vivo;
• Gêneros e formatos de programas radiofônicos;
• Edição em software específico;
• Produção de matérias, reportagens, boletins, radiojornais, etc.;
• Funcionamento de uma rádio;
• Vocabulário radiofônico;

• Roteiro e script;
• Visitação a uma rádio;
• Tipologia radiofônica.
AVALIAÇÃO
Teórica
• Prova escrita
Prática
• Produção de diferentes gêneros radiofônicos.
BIBLIOGRAFIA
Básica: BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de Radiojornalismo: Produção, ética e internet. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. NEUBERGER, Rachel. O rádio na era da convergência das mídias. Cruz das Almas: Edufrb, 2012. MEDITSCH, Eduardo. O rádio na era da informação: Teoria e técnica do novo radiojornalismo. 2 ed. Florianópolis: Insular, 2007. Complementar: BAHIA, Juarez. O Radiojornalismo. Jornal, História e Técnica. São Paulo: Ática, 1990. CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática da locução AM e FM. São Paulo: IBASA, 1991. GOLDFEDER, Miriam. Por trás das ondas da Rádio Nacional. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1980. KOGO, Denise. No ar, uma rádio comunitária. São Paulo: Ed. Paulínia, 2000. LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. São Paulo: Ática, 1986. MEDINA, Cremilda. Entrevista: o diálogo possível. São Paulo: Ática, 1986. MOREIRA, Sonia Virgínia. O rádio no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora, 1991. ORTRIWANO, Gisela. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos conteúdos. São Paulo: Summus Editorial, 1985.
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________
Diretor do Centro
____________________________________
Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTE
S CURRICULARE
S
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 300
TEORIAS DO JORNALISMO 85 85
2015.2
EMENTA
O jornalismo como demanda da sociedade contemporânea. O estatuto do discurso jornalístico: o jornalismo como modalidade do conhecimento. Jornalismo como acionamento de práticas discursivas para a compreensão da atualidade. Estudo das correntes e dos autores mais significativos das teorias do jornalismo. O jornalismo como elemento mediador e transformador.
OBJETIVOS
Apresentar o universo dos estudos sobre o jornalismo. Debater, a partir de uma perspectiva histórica, as principais teorias do jornalismo e como elas podem ser utilizadas para a análise do jornalismo contemporâneo. Discutir o jornalismo como campo social, forma cultural e atividade profissional.
METODOLOGIA
Aulas expositivas e dialogadas, discussão de textos de leitura obrigatória, estudos de caso, análise de produtos jornalísticos e seminários.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Construção histórica do jornalismo moderno O paradigma da objetividade Teoria do espelho Teoria do gatekeeper ou ação pessoal Teoria da ação organizacional UNIDADE II - Teorias da ação política Teorias construcionistas: estruturalista e interacionista Paradigma construcionista A objetividade jornalística sob o olhar construcionista O newsmaking e a cultura profissional dos jornalistas UNIDADE III - Agendamento Enquadramento Jornalismo como campo social Jornalismo como instituição social: fato, interesse e atualidade
AVALIAÇÃO
Avaliação global, processual, envolvendo freqüência, participação, desempenho, criatividade e responsabilidade de cada aluno e da equipe. Aval iação formal constará de: 1) prova; 2) resenhas (3); 3) seminário com trabalho (grupos de até 5 alunos)

BIBLIOGRAFIA
Básica KUNCZIK, Michael. Conceitos de jornalismo: norte e sul. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001
TRAQUINA, Nelson (Org.). Jornalismo: questões, teorias e estórias. Lisboa: Vega, 1993.
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. Porque as notícias são como são, Vol. I. Florianópolis: Insular, 2005.
Complementar
FRANCISCATO, Carlos. A Fabricação do presente. Como o jornalismo reformulou a experiência do tempo nas sociedades ocidentais . Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira/Editora da Universidade Federal de Sergipe, 2005.
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da Pirâmide. Porto Alegre: Ed. Tchê, 1987. Disponível em http://www.adelmo.com.br/bibt/t196.htm . GOMES, Wilson. Jornalismo, fatos e interesses: Ensaios de teorias do jornalismo. Série Jornalismo a Rigor. V1. Florianopolis: Insular, 2009. GUERRA, Josenildo Luiz. O percurso interpretativo na produção da notícia Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira/Editora da Universidade Federal de Sergipe, 2008.
TRAQUINA, Nelson. O poder do jornalismo – análise e textos da teoria do agendamento. Coimbra: Minerva, 2000.
Sugestão de leitura:
ALBUQUERQUE, Afonso de. Um outro Quarto Poder. Imprensa e compromisso político no Brasil. In: Revista Fronteiras – estudos midiáticos, vol.1, nº 1, dezembro de 1999.
BARROS FILHO, Clóvis de. Impor sobre o que falar (a hipótese do agenda-setting). In: Ética na comunicação – da informação ao receptor. São Paulo: ed. Moderna, 195, pp. 169-205.
COLLING, Leandro. Agenda-setting e framing: reafirmando os efeitos limitados. In: Revista da Famecos, número 17, Porto Alegre, abril de 2002, p. 88 a 101. Disponível em http://www.pucrs.br/famecos/pos/revfamecos/17/a07v1n17.pdf , acesso em 24 de janeiro de 2008.
DALMONTE, Edson Fernando. Posicionamento Discursivo no Webjornalismo: temporalidade, paratexto, comunidades de experiência e novos dispositivos de enunciação. Tese de Doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea - Universidade Federal da Bahia, 2008.
DEUZE, Mark. What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. In: Journalism. London: Sage Publications, 2005, Vol. 6(4): 442–464.
ENTMAN, Robert M. Framing: Toward Clarification of Fractured Paradigm. In: Journal of Communication, 1993, 43 (4), p. 51- 58.
GAMSON, W. A.; MODIGLIANI, A. Media discourse and public opinion on nuclear power: a constructionist approach. In: American Journal of Sociology, 1989, Vol.95, No 1, p. 1- 37.
GAMSON, William. Goffman’s Legacy to Political Sociology. In: Theory and Society, 1985, Vol. 14, No 5, p. 605- 622.

________________. News as Framing. In: American Behavioral Scientist, 1989, Vol. 33, No 2, p. 157 – 161.
GOMES, Wilson. Transformações da política na era da comunicação de massas. São Paulo: ed. Paulus, 2004, 41-82.
_____________. Comunicação e Democracia. São Paulo: Paulus, 2008.
GOMES, Itania Maria Mota. Efeito e Recepção: a interpretação do processo receptivo em duas tradições de investigação sobre os media. Rio de Janeiro: E- Papers, 2004.
GUERRA, Josenildo Luiz. O Nascimento do Jornalismo Moderno - uma discussão sobre as competências profissionais, a função e os usos da informação jornalística. In: Anais do 26. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Belo Horizonte-MG, setembro de 2003. São Paulo: Intercom, 2003. Disponível em reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/4406/1/NP2GUERRA.pdf , acesso em 05 de fevereiro de 2008.
GUTMANN, Juliana Freire. Quadros narrativos pautados pela mídia: framing como segundo nível do agenda setting?. In: Contemporânea, vol. 4, n. 1, 2006. Disponível em: www.contemporanea.poscom.ufba.br/htmls_port/v4_1_jun06.html
GOMES, Itania Maria Mota. Questões de método na análise do telejornalismo: premissas,conceitos, operadores de análise. In: Revista e-compos, edição 8, abril de 2007. Disponível em: www.compos.org.br/e-compos
GOMIS, Lorenzo. Do Importante ao Interessante - ensaio sobre critérios para a noticiabilidade no jornalismo. In: MACHADO, Elias; TEIXEIRA, Tattiana (org.). Pauta Geral – revista de jornalismo. Salvador: Editora Calandra. Ano 9, nº 4, 2002.
KUCINSKI, Bernardo. O ataque articulado dos barões da imprensa: a mídia na campanha presidencial de 1989. In: A síndrome da antena parabólica – ética no jornalismo brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998, p. 105 a 114
MEDITSCH, Eduardo. O Jornalismo é uma Forma de Conhecimento? Beira Interior, Portugal: Setembro de 1997. Disponível em http://bocc.ubi.pt/pag/_texto.php/html2=meditsch-eduardo-jornalismo-conhecimento.html , acesso em 01 de junho de 2007.
MELO, José Marques de. Teoria do jornalismo. São Paulo: Paulus Editora, 2006.
PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005.
PORTO, Mauro, VASCONCELOS, Rodrigo e BASTOS, Bruna Barreto. A televisão e o primeiro turno das eleições presidenciais de 2002: análise do Jornal Nacional e do horário eleitoral. In: RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.) Eleições presidenciais em 2002: ensaios sobre mídia, cultura e política. São Paulo: Hacker Editores, 2004, p.68 a 90.
RIBEIRO, Ana Paula Goulart. Memória de Jornalista: um estudo sobre o conceito de objetividade nos relatos dos homens de imprensa dos anos 50. In: FRANÇA, Vera et al (Orgs.). Livro da XI Compós 2002: estudos de comunicação, Porto Alegre, Ed. Sulina, 2003.
RUBIM, Antonio Albino Canelas. Comunicação e política. Conceitos e abordagens. São Paulo: Editora Unesp, 2004. Capítulo agenda-setting e enquadramento.
SCHEUFELE, D. A. Framing as a theory of media effects. In: Journal of Communication, 1999, 49 (1), p. 101–120.
SCHUDSON, Michael. Por que é que as notícias são como são? In: Revista de Comunicação e

Linguagens, no.8, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens/Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, outubro de 1988, p.17-27.
SCHUDSON, Michael. Descobrindo a notícia – Uma história social dos jornais nos Estados Unidos. Tradução de Denise Jardim Duarte. Petrópolis: Vozes, 2010. Coleção Clássicos da Comunicação Social.
SERRA, Sonia. Relendo o Gatekeeper: notas sobre condicionantes no jornalismo. In: Contemporânea, vl 2, n.1, 2004. p. 93-113.
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. A tribo jornalística – uma comunidade interpretativa transnacional, Vol. II. Florianópolis: Insular, 2005.
TRAQUINA, Nelson (Org.). Revista de Comunicação e Linguagens. (Jornalismo 2000), Lisboa, Edições Relógio D’Água/, nº 27, fevereiro de 2000.
TRAQUINA, Nelson (Org.). Revista de Comunicação e Linguagens. (Jornalismos), Lisboa, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens-UNL, nº 8, dezembro de 1988.
TRAQUINA, Nelson. O Estudo do jornalismo no século XX. São Leopoldo: Editora da Unisinos. 2001.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura (Trad. de Waltensir Dutra), Rio de Janeiro: Jorge Zahar, [1971]1979.
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, HABILITAÇÃO EM JORNALISMO
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 794
Comunicação, Ciência e Tecnologia 85 -
-
85 2015.2
EMENTA
Abordagem contemporânea para os entrelaces entre comunicação social, ciência e tecnologia. As interfaces comunicacionais para temas ligados ao meio ambiente e à sociedade. O jornalismo científico e as formas de divulgação das concepções, políticas e usos tecnológicos da sociedade.
OBJETIVOS
Possibilitar que o aluno conheça o desenvolvimento do pensamento científico, o conceito de Ciências e a sua aplicabilidade no cotidiano, assim como o uso do instrumental da comunicação, principalmente jornalístico, para difusão, divulgação e disseminação da Ciência & Tecnologia.
METODOLOGIA
1.Aulas expositivas sobre tópicos do conteúdo programático, com apresentação de slides digitais e material de apoio em mídia impressa (textos teóricos e de imprensa) e audiovisual (entrevistas e vídeo-documentários). 2. Análise de conteúdo sobre textos e publicações de divulgação científica e jornalismo científico. 3. Exercícios práticos de aplicação do conteúdo, incluindo:
• Produção de resenhas sobre obras indicadas (livros e filmes); • Visita monitorada a laboratório e/ou centro de pesquisa; • Palestras e entrevistas com pesquisadores convidados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Ciência & Tecnologia
• Conhecimento tradicional X conhecimento Tácito X conhecimento científico • Construção do conhecimento científico e da tecnologia • Qual o gênero da ciência? • Revisão do conhecimento científico e tecnológico na perspectiva de Gênero e Raça • A história da ciência e a ausência da mulher e do negro

Comunicação da Ciência
• Comunicação pública da ciência • Demandas de popularização do conhecimento científico • Disseminação, difusão e divulgação científica • Segmentos de público interessados em ciência • Publicações e veículos segmentados e especializados • Políticas de C & T e de divulgação do conhecimento científico • Arte e ofício feminino para comunicação da C&T •
Jornalismo científico • Jornalismo como mediação crítica das ciências • As fontes de informações em C & T. • O diálogo entre jornalistas e pesquisadores. • O espaço de C & T & I na mídia brasileira. • Jornalismo Científico no Brasil: estudo de casos • A Web como futuro para o jornalismo científico
Ciência, Comunicação e Sociedade • As ciências e as tecnologias na exploração do meio ambiente e do corpo humano • Os dilemas éticos da ciência e da comunicação • Compromissos sociais da difusão e divulgação científica
AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada tomando em consideração 3 tipos de ações: 1) Leitura e fichamento de um texto teórico; 2) Análise de um produto que trate de divulgação científica ou jornalismo científico; 3) Entrevista coletiva com pesquisador científico e Produção de texto jornalístico a partir da entrevista
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica: FERREIRA, Maria de Fátima. Cultura Científica, Gênero e Jornalismo. Relatório de Pesquisa. CAHL/UFRB, Cachoeira, Ba, 2012. Mimeo. FERREIRA, Maria de Fátima. A divulgação científica através do ofício feminino de entrelaçamentos de fios. UCSC, Santa Cruz, CA, 2014. Mimeo. HARAWAY, Donna. SABERES LOCALIZADOS: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu (5) 1995: pp. 07-41 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo científico. São Paulo : Contexto, 2005. SCHIEBINGER, Londa. O Feminismo mudou a ciência? Bauru: EDUSC, 2001 VOGT, Carlos; POLINO, Carmelo. Percepção Pública da Ciência: resultados da pesquisa na Argentina, Brasil, Espanha e Uruguai. Campinas/São Paulo: Editora da Unicamp/Fapesp, 2003.
Bibliografia Complementar: ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria. O que é história da ciência. São Paulo: Brasiliense. 1994. BURKETT, Warren. Jornalismo científico: como escrever sobre ciência, medicina e alta tecnologia para os meios de comunicação. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1990.

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix. 1986. CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense. 1995. COSTA, Caio Tulio. Ética, jornalismo e nova mídia. Zahar, 2009. FOUREZ, Gerard. A construção das ciências: introdução à Filosofia e à Ética das ciências. São Paulo: Editora da Unesp, 1995. HERNANDO, Manoel Calvo. Manual de periodismo científico. Barcelona: Bosch, 1997 KREINZ, Glória, PAVAN, Crodowaldo, MARCONDES FILHO, Ciro. Feiras de Reis: Cem anos de divulgação científica no Brasil. São Paulo: NJR-ECA/USP, 2007. KUHN, Thomas. Estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva. 1976. LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo metodológico. São Paulo: Loyola. 1990. MASSARANI, Luisa; MOREIRA, Ildeu de Castro; BRITO, Fátima. Ciência e Público – caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência – Centro Cultural da Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fórum de Ciência e Cultura, 2002. MASSARANI, Luisa; TURNEY, Jon; MOREIRA, Ildeu de Castro (orgs.). Terra Incógnita; a interface entre ciência e público. Rio de Janeiro: Vieira & Lent: UFRJ, Casa da Ciência: Fiocruz, 2005 MATTELART, Armand e Michèle. História das teorias da comunicação. São Paulo: Loyola. 1999. OLSCHOWSKY, Joliane. Mulher na ciência: Representação ou ficção, ECA, USP, São Paulo, 2007. POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix/Edusp. 1984. ROCKMAN, John e MATSON, Katinka (org.). As coisas são assim: pequeno repertório científico do mundo que nos cerca. São Paulo: Cia. das Letras. 1997. SAGAN, Carl. O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro. São Paulo: Cia. das Letras. 1997. SANTOS, Lucy Woellner dos; ICHIKAWA, Elisa Yoshie & CARGANO, Doralice de Fátima. (orgs.) Ciência, Tecnologia e Gênero: desvelando o feminino na construção do conhecimento. Londrina, IAPAR, 2006. SILVA, Elizabeth Bortolaia. Tecnologias do lar. Tecnologia e vida doméstica nos lares. In: Cadernos Pagu (10)1998: pp. 21-52. SILVEIRA, Ada Cristina Machado da Silveira (org.). Divulgação científica e tecnologias de informação e comunicação. Santa Maria: FACOS-UFSM, 2003. SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. A ciência na televisão; mito, ritual e espetáculo. São Paulo, Annablume, 1999. TAVARES, Bráulio. O que é ficção científica. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense. 1986. VILAS BOAS, Sergio (org.). Formação e informação científica – jornalismo para iniciados e leigos. São Paulo: Summus, 2005. WARREN, Baukett. Jornalismo Científico: como escrever sobre ciências, medicina e alta tecnologia para os meios de comunicação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. ZIMAN, J. O conhecimento confiável: uma exploração dos fundamentos para a crença na ciência. São Paulo: Papirus. 1996. Outras Publicações: Publicações e iniciativas regionais: Jornal A Tarde (Ciência & Vida), Agência Ciência Web, Editorias: Folha de S. Paulo (Ciência, Ilustríssima, Saúde), O Estado de S. Paulo (Vida&, Saúde, Ciência e Planeta) Revistas: National Gregraphic Brasil, Pesquisa Fapesp, Galileu, Super Interessante, Revista Ciência e Cultura, Scientific American Brasil, Univerciência, Globo Rural, Revista Unesp Ciência, Piauí. Vídeo-documentários: BBC (série “Earth”), Discovery Channel, National Geographic Channel. Periódico acadêmico: Journal of Science Communication

Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Jornalismo
++ COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 796
Comunicação, Mídia e Imagem Prof. Dr. Jorge Cardoso Filho 85 - - 85
2015.2
EMENTA
Os meios de comunicação e sua evolução h is tór ica, soc ial e tecno lógica, com destaque para o campo das semiót icas . O estudo das mídias a part ir de suas l inguagens v isua is. A produção v isua l de produto de comunicação. Conce itos básicos para a aná l ise semiót ica de aspectos gráf icos das míd ias impressas (jornais e rev istas) e e le trôn icas ( te lev isão e internet) . A aná l ise dos sent idos produzidos nas inter -re lações entre textos verbais e não-verba is .
OBJETIVOS
1. Discutir as transformações his tór icas , soc iais e tecnológicas das mídias de forma art icu lada às transformações nos processos de s ignif icação.
2. Identi f i car os processos semiót icos e semio lógicos de produção, interpretação e cr í t ica dos textos midiát icos, enfat izando os produtos v isua is dos campos da informação e do entreten imento .
3. Promover exerc íc ios de aná l ise de imagens d iversas (graf ismos, t ir inhas, car icaturas , produtos jornal ís t icos , cartazes etc.)
METODOLOGIA
As estratégias didáticas a serem uti l izadas abrangerão atividades de discussão conceitual de art igos, capítulos de l ivros e obras relevantes do campo da Comunicação, Semiótica, Hermenêutica e das Artes. Aulas exposit ivas, exercícios de interpretação, análises comentadas de imagens, seminários sobre temas diversos e aula de campo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – Mídias, sistemas de significação e tecnologias
Novas e velhas mídias: os processos de signif icação
Signos, Signi f icantes e Signi f icados
O modo simból ico
Unidade II – O universo icônico nos campos da informação e do entretenimento
O analógico e o digita l
Semiose visual: o estudo da signif icação da imagem
Reconhecimento e disjunção na semiose gráfica (a caricatura) Ações e sentido de testemunho no discurso visual do fotojornal ismo
Unidade III – Ler e experimentar as imagens
Os l imites entre a leitura e a experiência estét ica com as imagens Uma pragmática das imagens As relações entre imagens e “estruturas de apelo”
Condições cognit ivas e sociais da compreensão estét ica da imagem;
AVALIAÇÃO Espera-se que os estudantes matriculados leiam com atenção e profundidade a bib l iografia do curso. Aval iação formal constará de: - Comentário crít ico a part i r da aula de campo "Leitura das imagens do Recôncavo".

- Paper (5 à 10 páginas) anal isando semiot icamente algum produto da comunicação midiát ica contemporânea.
BIBLIOGRAFIA
Básica BARTHES, Roland. O Óbvio e o Obtuso . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
______. Elementos de Semiologia . 16 ed. São Paulo: Cult r ix, 2006.
______. A mensagem fotográfica. In: COSTA LIMA, Luiz (org.). Teoria da Cultura de Massa . São Paulo: Paz e Terra, 2000.
BOUGNOX, Daniel. Introdução às Ciências da Comunicação . Bauru, EDUSC, 1999.
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia — de Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual . São Paulo: Mart ins Fontes, 1997.
ECO, Umberto. Semiótica e Filosofia da Linguagem . L isboa: Inst ituto Piaget, 2001.
ECO, Umberto. Interpretação e Superinterpretação .
FONTANILLE, Jacques. Significação e Visualidade: exercícios prát icos. Porto Alegre: Sul ina, 2005.
FUENTES, Rodol fo. A prática do design gráfico: Uma metodología criat iva. São Paulo: Rosari , 2006.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. 11ª ed. São Paulo: Cultrix, 1999.
MCQUAIL, Denis. Teoria da Comunicação de Massas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
OLIVEIRA, Ana Claudia. Semiótica Plástica. São Paulo: HAckers Editores, 2004.
PARRET, Herman. A Estética da Comunicação: além da pragmática. Campinas: Unicamp, 1997. PEIRCE, Charles S. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995.
PICADO, Benjamim. Ícones, Instantaneidade, Interpretação: por uma pragmática da recepção pictórica na fotografia. Galáxia . 9 (2005)
PINTO, Jul io . O ruído e outras inutil idades. Ensaios de comunicação e semiótica. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
SCHNEIDER, Greice. O Olhar Obliquo: narrativa visual na fotografia de Robert Doisneau . Dissertação (mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas, FACOM-UFBA). 2005.
VERON, El iseo. La Semiosis Social . Barcelona: Editorial Gedisa, 1998.
Complementar BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BERGER, Peter & LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1976.
ECO, Umberto. A estrutura ausente. 7 ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.
______. O conceito de texto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1984.
FABBRI, Paolo. El Giro Semiótico. Barcelona: Editorial Gedisa, 2000.
______. Tacticas de los signos. Barcelona: Editorial Gedisa, 1995.
GREIMAS, Algirdas. Da imperfeição. São Paulo: Hacker Editores, 2002.
Gombrich, Ernest H. Meditações sobre um Cavalinho de Pau e Outros Ensaios. São Paulo: Edusp, 1999.
HJELMSLEV, Louis. Ensaios Linguísticos. São Paulo: Perspectiva, 1991.
SEARLE, John. Os actos de fala. Coimbra: Editora Almedina, 1984.
TATIT, Luiz. Musicando a Semiótica. São Paulo: Annablume, 1997.
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.

____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Comunicação Social- Jornalismo
++ COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 320
Temas Especiais em Comunicação- Mídia e Saúde Profa. Dra. Márcia Rocha 68 - - 68
2015.2
EMENTA
A interface mídia e saúde: as fontes, os produtores de conteúdo e os sentidos da saúde. Modos de abordagem da saúde nos meios de comunicação. A hegemonia do modelo biomédico e seus discursos midiáticos sobre risco, prevenção, estilo de vida, longevidade. A concepção de saúde como ausência de doença e responsabilidade individual na cobertura midiática. A informação em saúde como mercadoria a serviço da medicalização. Reflexões para uma abordagem midiática da saúde enquanto bem coletivo, sociocultural e ambiental.
OBJETIVOS
1. Analisar o conteúdo da cobertura de saúde, identificando os modos de abordagem nos meios de comunicação.
2. Compreender a construção da hegemonia do modelo biomédico e sua aliança com a indústria da saúde
3. Discutir o sentido ampliado da saúde para além da doença e na contramão de uma lógica midiática de consumo e lucro.
METODOLOGIA
Aulas exposit ivas Seminários a partir da leitura de textos (art igos e capítulos de l ivros) e palestras/debates com pesquisadores/profissionais da saúde e da mídia Exibição de vídeos que discutem modelos e enquadramentos da saúde na mídia Análise sobre o conteúdo da saúde em produtos midiáticos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – A hegemonia do modelo biomédico e a mídia
- Os sent idos da saúde e da doença – aspectos his tór icos , soc ia is e cu lturais
- A lógica do r isco
- A centra l idade da mídia na sociedade contemporânea
- A saúde como objeto midiát ico – do âmbito in formativo ao entretenimento , publ ic i tár io e re l ig ioso
Unidade II – Informação, saúde e consumo.
- A informação em saúde como mercador ia – a lógica de consumo
- A indústr ia da saúde e sua a l iança com a míd ia – exemplos no jornal ismo
- A medica l ização da v ida e as “novas doenças” midiat izadas.
- A centra l idade das fontes médico-c ient í f icas no cuidado à saúde
Unidade III – Percepções sobre a saúde e a mídia
- Os l imi tes do chamado”est i lo de v ida saudável”- determinantes soc ia is da saúde
- Doenças neg l igenc iadas pela míd ia - A saúde enquanto bem e fato co let ivo – percepções sobre o Sistema Único de Saúde
- Enquadramentos da saúde na mídia: técn ico-c ient í f ico; comportamento e responsabi l idade ind iv idua l; soc iocu ltura l e ambienta l; po l í t ica públ ica.
AVALIAÇÃO
Aval iação 1 – seminar io (8 ,0 + 2 ,0 pontos de part ic ipação e f requênc ia nos demais seminár ios e debates/palestras . Aval iação 2- Texto cr í t ico sobre o conteúdo da saúde em produto mid iát ico
BIBLIOGRAFIA
Básica

ARAUJO, Inesita Soares de; CARDOSO, Janine Miranda. Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2007. CASTIEL, L. D. Lidando com o risco na era midiática. In: MINAYO, M.C.S; MIRANDA,A. C. (Orgs). Saúde e Ambiente Sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, p. 112-133, 2002. CZERESNIA, D., MACIEL, E.; OVIEDO, R. Os sentidos da saúde e da doença. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2013.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1979.
LEFÈVRE, Fernando. A saúde como fato coletivo. In: Saúde e Sociedade, v.8 n. 2 , São Paulo, agosto/dezembro 1999.
LERNER, Kátia; SACRAMENTO, Igor (orgs.). Saúde e jornalismo: interfaces contemporâneas. Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, 2014.
MINAYO, M. C.S. Enfoque Ecossistêmico de Saúde e Qualidade de Vida. In: MINAYO, M.C.S e MIRANDA, A.C. (Orgs.). Saúde e Ambiente Sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, p. 173-189, 2002.
PESSONI, Archimedes (org.). Comunicação, Saúde e Pluralidade: novos olhares e abordagens em pauta. - Dados eletrônicos. São Caetano do Sul: USCS, 2015. Série Comunicação & Inovação, v.6.
SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 6.ed. Petrópolis, RJ:Vozes, 2011.
Complementar
BECK, Ulrick. La sociedade del riesgo global. Tradução Jesús Alborés Rey. Madrid: Siglo Veintiuno de Espana Editores, 2002.
BORTOLIERO, Simone. Os programas de saúde na TV Cultura de São Paulo: os saberes profissionais. 1999. Tese (Doutorado em Comunicação) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo.
BOURDIEU, P. O poder simbólico. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
BRAGA, José Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia: dispositivos sociais de crítica midiática. São Paulo: Paulus, 2006.
BROTAS, Antonio Marcos Pereira. Em nome do progresso da ciência e da saúde: a participação dos pacientes na cobertura do julgamento da legalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. Reciis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saude. Rio de Janeiro, v.6,n.4, dez 2012.
BUENO, Wilson da Costa. A cobertura de saúde na mídia brasileira: sintomas de uma doença anunciada. Disponível em:<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/jornalismo_saude/artigo3.phpa>.
BUSS, Paulo. O conceito de promoção da saúde e os determinantes sociais. Disponível em: <http://www.bio.fiocruz.br/index.php/artigos/334-o-conceito-de-promocao-da-saude-e-os-determinantes-sociais>,
COSTA, Márcia Cristina Rocha. Ressonância biomédica na mídia: análise do enquadramento da saúde em programas da série de TV Ser Saudável-TV Brasil. Tese de doutorado em Cultura e Sociedade, IHAC/UFBA, Universidade Federal da Bahia, 2015.
____ Saúde, Doença, Ciência e Tecnologia: as concepções de profissionais do jornal baiano A Tarde. Reciis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saude. Rio de Janeiro, v.6,n.4. Suplemento, fev.,2013.
FAUSTO NETO, ANTÕNIO. A midi(c)alização da cura. In Comunicação Veredas, no 3 São Paulo, Unimar, 2004.
GADAMER, H. O caráter oculto da saúde. Tradução de Antônio Luz Costa. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2006.
LAPLANTINE, François. Antropologia da Doença. 4ª Ed. - São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.
OLIVEIRA, V. Os mídias e a mitificação das tecnologias em saúde. In: PITTA, Aúrea M. da Rocha (org.). Saúde e comunicação:visibilidades e silêncios. São Paulo: Hucitec, p.38-47, 1995.
RANGEL-S, Maria Lígia. Risco, cultura e comunicação na proteção e promoção da saúde. In: COSTA, Ediná Alves; RANGEL-S, Maria Lígia (Orgs.). Comunicação em vigilância sanitária. Princípios e diretrizes para uma política. Salvador: EDUFBA, 2007.
VAZ, Paulo. As narrativas midiáticas sobre cuidados com a saúde e a construção da subjetividade contemporânea. In: Logos 25: corpo e contemporaneidade. Ano 13, 2º semestre de 2006.
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTA
L
Oficina de Fotojornalismo - Alene Lins
40
45
85
2015.2
EMENTA
História do Fotojornalismo. Técnicas de registro fotográfico. O analógico e o digital no jornalismo. Gêneros do Fotojornalismo. Relacionamento do repórter fotográfico com o fato e o texto.
OBJETIVOS Possibilitar o domínio da técnica no manuseio do equipamento profissional e da composição. Refletir sobre a importância da fotografia de imprensa
Relacionar os conceitos teóricos e a prática no fotojornalismo.
Possibilitar conhecer e diferenciar os processos analógico e digital da fotografia na imprensa, relacionando com seu contexto histórico e sua prática jornalística.
METODOLOGIA
Disc ip l ina dada em conjunto com Professora Juc iara Noguei ra, em turmas d iversas, porém com planejamento conjunto. Wik i aulas, in tera t ivas, com exposições de professor e estudantes, uso de in ternet , datashow, v ídeos.
Uso de textos suporte em seminár ios ind iv iduais . Uso de p lataformas interat ivas para pos tagem de mater ia l p roduzido (b log memoria l )
At iv idades prát icas , exposições v i r tuais e uma exposição f ís ica
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação dos conce i tos e da h is tór ia da imagem, da fotograf ia e do foto jornal ismo ao longo do tempo, permeando os concei tos analógico e d ig i ta l (con textual ização com a época em que foram c r iadas e na atual idade e em que isso modi f ica o fazer jorna l ís t ico no papel e na in te rnet) .
Os d ispos i t ivos técnicos da fotograf ia (câmeras, lentes, f l ash, i luminação natura l , técnicas de estúdio, recursos d ig i ta is) .
Pr incíp ios da composição fotográf ica e a p rát ica do foto jo rnal ismo.
Os processos de edição da manipulação d ig i ta l e ét ica no foto jo rnal ismo.
O foto jornal ismo e sua importânc ia documental .
A re lação foto jornal is ta X redação.
A pauta e o uso de legenda.
Exercíc ios de reconhecimento de equipamento; De composição fotográf i ca;

Uso de i luminação ar t i f i c ia l ( f lash e t rês pontos de luz) e d i fe rentes ISO. Cr iação de min iestúdio para ensaios de edi tor ias especí f icas.
Prát ica do fo to jornal ismo em eventos .
Prát ica em edição de foto jornal ismo.
Elaboração de pauta foto jornal ís t ica e legendas in format ivas.
AVALIAÇÃO
Diagnóst ica , Processual e Cont inuada.
Seminár ios ind iv iduais com bancas aval iadoras e aval iação colabora t iva .
Exercíc ios cont ínuos postados em blog memoria l e exposições em wik i aulas com exerc íc ios de demonstração.
Exposição v i r tual em blog e exposição f ís ica.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica: BORGES, Maria Eliza Linhares. História e Fotografia. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. KOSSOY, Boris. Fotografia e História. 2ª ed. Ver. São Paulo:Ateliê Editorial, 2001. KUBRUSLY, Cláudio. O que é fotografia. São Paulo:Brasiliense. 2003. Coleção primeiros passos.
LINS, A e VALENTE, R. Fotojornalismo, Informação, técnica e Arte. Campo Grande: UFMS, 1997
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico. Teoria e prática. São Paulo:Senac, 2003. Complementar:
SAMAIN, Etienne (org). O Fotográfico. São Paulo: Senac/Hucitec, 2005. SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo, introdução à história, técnicas, linguagem da fotografia na imprensa.Florianópolis: Letras contemporâneas, 2004.
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 015
Oficina de Telejornalismo I
34 51 85 2015.2
EMENTA
História do jornalismo na TV. Introdução às técnicas do telejornalismo. Noções de pauta, roteiro, espelho, script. Padrões do telejornalismo brasileiro e internacional. Variações do telejornalismo. Legislação da teledifusão. Roteiro de telejornais. Redação e edição de texto em telejornais.
OBJETIVOS
Oferecer ao discente os elementos teóricos e práticos necessários para a elaboração de pautas telejornalísticas, a produção e a realização de reportagens para TV, a preparação e a alteração do espelho bem como do script do telejornal, a apresentação de uma edição noticiosa. O estudante deve ser capaz de executar as diferentes funções jornalísticas existentes numa redação de televisão desde a checagem (apuração) da informação até a divulgação (transmissão) da notícia.
METODOLOGIA
Aulas exposit ivas e part icipat ivas baseadas em pesquisa bibl iográfica al iadas à exibição de material de apoio relacionado aos exemplos prát icos correspondentes, discussões em grupo e estudo dir igido; exerc ícios prát icos e anál ise crít ica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – - História do jornalismo na TV - A redação de TV: rotinas de produção e funções dos jornalistas - O percurso da informação: da apuração à exibição - Gêneros e Formatos - Os Critérios de Noticiabilidade - A pauta de TV: factual/produzida; local/nacional - Reunião de Pauta/Reunião de Caixa - A responsabi l idade com a informação
UNIDADE II – - O Texto na TV; - O espelho, o script e a apresentação do TJ; - A relação repórter-editor de texto; - Noções de planos e movimentos de câmera; - Perfis e Modelos do telejornalismo no Brasil;
UNIDADE III – - Discussão das pautas - Gravação das reportagens - Decupagem e edição - Montagem e finalização do TJ - Exibição, análise e discussão

AVALIAÇÃO A Avaliação será processual e levará em conta a frequência, a participação nas discussões em sala, o desempenho nas atividades práticas, a criatividade e a responsabilidade individual e do grupo. Os instrumentos de aval iação serão divididos da seguinte forma: Unidade I: Pauta e produção (em dupla) Unidade II: Proposta Editorial ( individual) Unidade III: Telejornal (grupo)
BIBLIOGRAFIA
Básica: CUNHA, A. A.. Telejornalismo. São Paulo: Atlas, 1990. GILDER, G. Vencendo na revolução digital: A vida após a televisão. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. MACIEL, P.. Jornalismo de televisão. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1995. MARCONDES FILHO, C.. A televisão: a vida pelo vídeo. São Paulo: Moderna, 1990. PEREIRA, JR., A. E. V.. Decidindo o que é notícia: os bastidores do telejornalismo. 2 ed. Coleção Comunicação, n 2, Porto Alegre: Edipucrs, 2001. SQUIRRA, S.. Aprender telejornalismo: produção e técnica. São Paulo: Brasiliense, 1995. Sugestão: BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. São Paulo: Contexto, 2005. CURADO, Olga. A notícia na TV: o dia-a-dia de quem faz telejornalismo. São Paulo: Alegro, 2002. PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na TV – manual de telejornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. REZENDE, Gui lherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil – um perfil editorial . São Paulo: Summus, 2000.
SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira. São Paulo: Summus, 2004.
DUARTE, El izabeth Bastos; CASTRO, Maria Lí l ia Dias de (orgs.). Televisão: entre o mercado e a academia. Porto Alegre: Editora Sul ina, 2006.
MATTOS, Sérgio. História da Televisão Brasileira – uma visão econômica, social e política. Petrópol is-RJ: Vozes, 2ª edição, 2002.
PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópol is-RJ: Vozes, 2006. MACHADO, Arl indo. A Televisão Levada a Sério . São Paulo: Senac – 3ª edição, 2003. Complementar: HERZ, D.. A história secreta da Rede Globo. Porto Alegre, Tchê, s/d. MARCONDES FILHO, Ciro. Imprensa e capitalismo. São Paulo: Kairós, 1984. MARCONDES FILHO, Ciro. Quem manipula quem? Petrópolis: Vozes, 1991. MARCONDES FILHO, Ciro. Política e imaginário nos meios de comunicação para SAs no Brasil industrial. São Paulo: Summus, 1993
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS
Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTA
L
Temas Especiais em Jornalismo Digital - Alene Lins
68
68
2015.2
EMENTA
As novas tendências do Jornal ismo dig i ta l . Produtos jornal ís t icos em redes soc ia is e apl icat ivos. A colaboração, in te ração e in te l igênc ia colet iva nas rot inas produt ivas do jornal ismo dig i ta l .
OBJETIVOS Refletir sobre os novos rumos do jornalismo na internet e a influência das redes sociais e aplicativos nas rotinas produtivas
Relacionar os conceitos teóricos e a prática no webjornalismo em redes.
METODOLOGIA
Disc ip l ina com Wik i aulas, in tera t ivas, com exposições de professor e es tudantes, uso de in terne t , datashow, v ídeos.
Uso de textos suporte em seminár ios. Uso de p lataformas interat ivas para postagem de mater ia l produzido (grupo facebook e cr iação de produtos em redes e whats app)
At iv idades prát icas e de pesquisa em redes e ap l icat ivos
Organização de evento aberto ao públ ico com resul tados da d isc ip l ina.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação dos conce i tos e da h is tór ia das redes soc ia is e do uso de las em Jornal ismo colaborat ivo e c idadão. Ident i f icação das caracter ís t icas do jornal ismo em cada uma das redes, com suas part icu la r idades e s imi la r idades. Processos e ro t inas em cada uma das redes.
AVALIAÇÃO
Diagnóst ica , Processual e Cont inuada.
Seminár ios in ternos. Um seminár io aberto ao públ ico.
Exercíc ios cont ínuos postados em um produto em rede como exposição v i r tual de pesquisas e exper imentos .
BIBLIOGRAFIA Em construção (ar t igos e publ icações disponíveis na WEB)
Bibliografia Básica: AROSO, Inês. As redes Sociais como ferramentas de Jornalismo participativo. Disponível na BOCC. Artigo 2013. LOPES, Flávia Valério. A reconfiguração dos veículos tradicionais de informação frente à

popularização das mídias sociais. In: INTERCOM SUDESTE, 2010, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2010. p.10. ______. A imprensa está nua: As mídias sociais colocando em xeque o monopólio da fala dos grandes veículos. In: INTERCOM, 2010, Caxias do Sul. Anais... Caxias do Sul: UCS, 2010. p. 11. SILVA, Amanda T. Pontes. O perfil jornalístico e sua possível reconfiguração para inclusão nas mídias digitais. In: INTERCOM, 2010, Caxias do Sul. Anais... Caxias do Sul: UCS, 2010. SANTAELLA, Lucia; LEMOS, Renata. Redes Sociais digitais: a cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Ed. Paulus, 2010 (Coleção Comunicação) SANCHEZ, Victor Hugo; ROSA, Caroline P. P. Bono. Redes Sociais: Espaço de Relacionamento e Existência no ciberespaço. In: INTERCOM, 2011, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UNICAP, 2011. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-0610-1.pdf> RECUERO, Raquel. Deu no Twitter, alguém confirma? – Funções do Jornalismo na Era das Redes Sociais. In: 9º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, 2011, Rio de Janeiro, Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. ______ Redes Sociais na Internet, Difusão de Informação e Jornalismo: Elementos para discussão. In: SOSTER, Demétrio de Azeredo; FIRMINO, Fernando.. (Org.). Metamorfoses jornalísticas 2: a reconfiguração da forma. Santa Cruz do Sul, UNISC, 2009. VELO, Atila. A história das mídias sociais. Santo André, 2012. Disponível em: < http://redatorweb.com.br/a-historia-das-midias-sociais-um-guia-sobre-a-origem-deste-fenomeno-slideshare/> Complementar: BESSA, Ana Paula. As redes sociais e os jornalistas. Observatório Mídia e Política, 2012. Disponível em: http://www.midiaepolitica.unb.br/index.php BLOGS pautam 44% dos jornalistas, aponta pesquisa. Virtual Comunicação, 26 de junho de 2012. Disponível em: <http://virtualcomunicacao.blogspot.com.br/2012/06/blogs-pautam-44-dos-jornalistas-aponta.html> . BRASIL é o terceiro país em número de usuários ativos na internet. Ibope Media, São Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Brasil-e-o-terceiro-pais-em-numero-de-usuarios-ativos-na-internet.aspx). BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor LTDA, 2004 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede- A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 1. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1999 ______. A Galáxia Internet: reflexões sobre a internet, negócios e a sociedade, 2003, p.48 CORRÊA, Elizabeth Saad. As mídias sociais e o ciberjornalismo: reconfiguração de vozes. In:______. Esfera Pública, Redes e Jornalismo. São Paulo: Ed. E-Papers. Faculdade Cásper Líbero, 2009, p. 189-207. DANTAS, Ivo Henrique. O Webjornalismo e a Sociedade da Informação: Os impactos sobre o fazer jornalístico e as empresas de comunicação. . In: INTERCOM, 2011, Recife. Anais... Recife: UNICAP, 2011.
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.

____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL
Comunicação Social - Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 041
COMUNICAÇÃO E ECONOMIA
85 85
2015
EMENTA
A atividade socioeconômica: produção, distribuição e consumo. O desenvolvimento econômico e a lógica do processo de acumulação do capital. Micro e macroeconomia apl icada às demandas da comunicação social e seus reflexos na dinâmica das sociedades. Temas da área de economia e das relações de mercado que dialoguem com a questão comunicacional. Enlaces entre a comunicação, o jornal ismo, marketing, mercado e outras áreas correlatas. A estatística apl icada. Anál ise de dados. Teoria e métodos da pesquisa em comunicação social. Pesquisa de mercado. Pesquisa de Mídia. Pesquisa de Opinião.
OBJETIVOS
1. Identi ficar as transformações políticas-econômicas do capitalismo no final do século XX e o contexto brasileiro nesse cenário;
2. Expl icar temas essenciais da economia brasi leira para atuação como profissional da comunicação;
3. Relacionar as áreas de comunicação e economia e distinguir as especificidades do jornal ismo de economia, sua l inguagem, ideologia, fontes e pautas;
METODOLOGIA
• Aulas expositivas e dialogadas com exemplos da imprensa regional e nacional; • Leituras e interpretação de textos • Seminários • Exibição de vídeos/f i lmes
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Panorama geral da economia na contemporaneidade • A evolução do capitalismo e suas transformações, sobretudo no final do século XX (fordismo e
pós-fordismo; nova economia: informacionalismo, globalização, funcionamento em rede) • Contexto histórico da economia brasileira Unidade II - Interfaces entre comunicação e economia • Indústria cultural e capitalismo;

• Economia política da comunicação; • Políticas públicas de comunicação; • Aspectos econômicos do mercado da comunicação; • Convergência tecnológica, econômica e política; • A bolha da internet; • Cultura do grátis; • Pirataria, bitcoin e mercados online. Unidade III – Jornalismo de economia • O jornalismo de economia: conceito, histórico no Brasil; principais veículos; • A produção da notícia de economia: linguagem, pauta, fontes; o boato como simulacro
econômico • Análises e interpretação de dados de pesquisas • Representação gráfica e visualização de dados
AVALIAÇÃO
Três avaliações valendo 10 pontos cada uma para cálculo de média semestral:
1. Prova escrita individual – após a Unidade II
2. Seminários sobre "Interfaces entre comunicação e economia" (trabalho escrito dentro das normas da ABNT + apresentação).
3. Participação e desempenho no semestre (exercícios em sala de aula, pesquisa de campo/apuração e frequência participativa);
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica: BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo parasitário. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2010. BOLAÑO, César. Indústria cultural, informação e capitalismo. São Paulo: Hucitex: Pólis, 2000. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, vol.1, 2010. MATTELART, Armand. As multinacionais da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2012. Bibliografia complementar: ABREU, Alzira A. Jornalistas e jornalismo econômico na transição democrática. In: ABREU, Alzira A., LATTMAN-WELTMAN, Fernando & Kornis, Mônica Almeida. Mídia e Política no Brasil - jornalismo e ficção. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
ANDERSON, Chris. Free/Grátis – o futuro dos preços. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. BASILE, Sidnei. Elementos do jornalismo econômico. Rio de Janeiro: Campus, 2002. BOAS, Sérgio Vilas (org.). Formação & Informação econômica - jornalismo para iniciados e leigos. São Paulo: Summus, 2006. CALDAS, Suely. Jornalismo econômico. Editora Contexto: 2003. CHAUI, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez, 2007. HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 2010, 20ª edição.
JAMBEIRO, O., BOLAÑO, C. R. S.; BRITTOS, V. (Org.). Comunicação, informação e cultura: dinâmicas globais e estruturas de poder. Salvador, Edufba, 2004. KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo econômico. SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. LENE, Hérica. Jornalismo de economia no Brasil. Cruz das Almas: Editora da UFRB, 2013.Disponível em: fi le:///C:/Users/Herica/Downloads/jornalismo%20de%20economia%20no%20brasi l%20(2).pdf. MARTINS, Valdir. O boato como simulacro econômico: uma investigação sobre a comunicação no mercado financeiro. São Paulo: Annablume, 2010.

RIBEIRO, Eduardo & PASCHOAL, Engel. Jornalistas Brasileiros - quem é quem no jornalismo de economia. São Paulo: Mega Brasil e Call Comunicações, 2005. RODRIGUES, Ernesto. Em cada editoria um desafio diferente. In: CALDAS, Álvaro (org.). Deu no Jornal - o jornalismo impresso na era da Internet. Editora PUC Rio, 2002. SANDRONI, Paulo. Traduzindo o economês: para entender a economia brasileira na época da globalização. São Paulo: Editora Best Seller, 2000. SINGER, Paul. Aprender economia. São Paulo, Contexto, 2008, 22a.ed. SINGER, Paul. O que é economia. São Paulo: Brasiliense, 1998. SLATER, Don. Cultura do consumo & Modernidade. São Paulo: Editora Nobel, 2002. VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da reportagem - como investigar empresas, governos e tribunais. São Paulo: Publifolha, 2008.
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL
Comunicação Social - Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL
CAH 795
OFICINA DE JORNALISMO ONLINE
85 85
2015
EMENTA
Informação online. Tipos de textos online. Redação e edição de textos para web e dispositivos móveis. A abrangência e a instantaneidade da comunicação em meio digital na cultura contemporânea. Elaboração de produto laboratorial.
OBJETIVOS
A disciplina alia teoria e prática. Busca fornecer compreensão acerca dos processos e fundamentos da apuração, redação, edição, circulação e disponibilização de conteúdos jornalísticos em meios digitais. Atenção será dada para os aspectos relacionados à convergência jornalística, ao jornalismo de dados e para o estado da arte das publicações online brasileiras e estrangeiras, visando prover conhecimento de primeira mão sobre o estágio em que se encontram, apontando as tendências e as perspectivas na área.
- análise das práticas discursivas, dos gêneros, das narrativas, dos distintos formatos para os conteúdos e dos variados produtos jornalísticos online;
- compreensão dos aspectos conceituais relacionados à produção jornalística na web, nas redes sociais e nos dispositivos móveis (celulares/smartphones, tablets ...);
- experimentação com a linguagem hipertextual/hipermídia, com técnicas para a redação, com recursos e ferramentas para a criação de conteúdos jornalísticos;
- aplicação do conhecimento apreendido na execução e na atualização do produto laboratorial vinculado à disciplina. Para tanto, os alunos trabalharão no planejamento, produção, apuração, redação, revisão, edição dos conteúdos, bem como na etapa da divulgação do produto.

METODOLOGIA
• Exposição participada com utilização de slides, entre outros recursos audiovisuais; • Discussão de textos; • Análise de produtos; • Exercícios: Trabalho de produção, apuração, redação e edição de conteúdos para
alimentação do produto laboratorial, incluindo também a etapa de divulgação do produto. Turma trabalhará de acordo com funções para assegurar a elaboração e a atualização do produto.
• O Blog da Redação será usado como suporte para a disciplina. Ele contém materiais bibliográficos, manual de estilo e redação para o produto laboratorial, indicação de ferramentas para produção de conteúdos, modelo de pauta integrada, cartilha para evitar o plágio, entre outros.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Desenvolvimento do jornalismo nas redes digitais . Histórico de evolução . As fases e os momentos de diferenciação do jornalismo digital . Os perfis dos produtos jornalísticos . Os formatos de conteúdos jornalísticos Estado atual e tendências . A convergência jornalística: conceito, aspectos constitutivos, modelos, características, divergências . Processos participativos no jornalismo digital . Redes sociais, recursos e ferramentas open source . O jornalismo em plataformas móveis: produção de conteúdos para smartphones e tablets . O Jornalismo em base de dados (data-driven journalism) e ferramentas de visualização da informação As propriedades do jornalismo digital e sua aplicação na produção, edição e disseminação de conteúdos . Hipertextualidade . Interatividade/Participação . Multimidialidade . Atualização contínua . Personalização . Memória/Arquivo/Perenidade Processos de apuração . Uso de bases de dados . Particularidades do sistema de busca . As fontes (oficiais, oficiosas, independentes) . Implicações éticas . Lei do Direito Autoral; Licenças Creative Commons e Copyleft - Produção, redação e estruturação hipertextual e hipermídia para conteúdos jornalísticos . A pauta integrada . Técnicas de redação e emprego de recursos (texto, foto, áudio, vídeo, infografia, dados, opções de interatividade, slideshows, linhas de tempo, etc.) . A linguagem hipermídia e as estruturas hipertextuais . A narrativa jornalística: modelos para a arquitetura da notícia

. Composição do conteúdo e formatos narrativos
. Manual de Redação e Estilo do Produto Laboratorial - O processo de edição . Tratamento hipertextual, inter-relacionamento e a arquitetura da informação . Hierarquização do conteúdo . Encadeamento das informações . Propriedade da linguagem . Pertinência no uso de palavras e expressões no texto, títulos, intertítulos, linhas de apoio . Correção do ponto de vista da língua portuguesa (ortografia, concordância, pontuação ...) . Checagem das informações apuradas, complementações necessárias . Revisão do material após postagem no sistema de gerenciamento de conteúdo do produto laboratorial . Formatação e normalização do conteúdo de acordo com o Manual de Redação e Estilo do Produto Laboratorial - Divulgação do produto laboratorial . Planejamento das etapas de divulgação, com uso de redes sociais, entre outras estratégias.
AVALIAÇÃO
Duas avaliações valendo 10 pontos cada uma para cálculo de média semestral:
Será avaliada a presença em aula; Atuação na exposição participada; Realização de Exercícios; Trabalho de produção, apuração e edição de conteúdos para o Impressão Digital 126 (textos, fotos; áudios, vídeos, slideshows, timelines, etc.), com o devido cumprimento dos prazos. A produção de conteúdo para o produto laboratorial tem valor de 0,0 a 10,0. A atuação na exposição participada + realização de exercícios, em seu conjunto, têm valor de 0,0 a 5,0. O resultado final do produto apresentado pela turma tem valor de 0,0 a 5,0.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
BARBOSA, Suzana. “Modelo JDBD e o ciberjornalismo de quarta geração”. In: FLORES, J.; ESTEVE, F. Periodismo Web 2.0. Madrid: Editorial Fragua (Colección Biblioteca de Ciencias de la Comunicación), 2009.
CANAVILHAS, João. Notícias e Mobilidade. O Jornalismo na Era dos Dispositivos Móveis. Covilhã, PT: Livros LabCOM, 2013. (e-book).
CANAVILHAS, João. Webnotícia: Propuesta de Modelo Periodístico para la WWW. Coleção Estudos em Comunicação. Covilhã: Livros Labcom, 2007. Disponível em:<http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/canavilhas-
webnoticia-final.pdf>.(cap. 7, 8 e 9)
CRUCIANELLI, Sandra. Ferramentas digitais para jornalistas. 2010. Editado pelo Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, da Universidade do Texas/Austin. Trad. Marcelo Soares.

Disponível em: <https://knightcenter.utexas.edu/hdpp_pt-br.pdf>.
FRANCO, Guillermo. Como escrever para a web. Elementos para a discussão e construção de manuais de redação online. Editado pelo Centro Knight para Periodismo en las Américas de la Universidade de Texas, en Austin. 2008. Disponível em: < https://knightcenter.utexas.edu/como_web_pt-br.pdf>.
MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para os jornalistas. Salvador: Calandra, 2003. p.19-32
MOHERDAUI, Luciana. Guia de Estilo Web – Produção e edição de notícias on-line. São Paulo: Editora SENAC, 2007. 3a ed.
PALACIOS, Marcos. Metodologia para o estudo dos cibermeios: Estado da arte & perspectivas. Salvador: EDUFBA. 2008. p.141-175.
PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. A apuração da notícia: métodos de investigação na imprensa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. p. 67-92.
PINTO, Ana Estela de Sousa. Jornalismo diário. Reflexões, recomendações, dicas, exercícios. São Paulo: PubliFolha, 2009.
SAAD CORRÊA, Beth; BERTOCCHI, Daniela. O algoritmo curador - O papel do comunicador num cenário de curadoria algorítmica de informação. In: Anais XXI Compós. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012.
SCHMITZ, Aldo Antonio. Fontes de notícias. Ações e estratégias das fontes no jornalismo. Florianópolis: Combook, 2011. (e-book). Bibliografia Complementar: BARBOSA, Suzana. (Org.). Jornalismo digital de terceira geração. Coleção Estudos em Comunicação. Covilhã: Livros Labcom, 2007. Disponível em: <http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/barbosa_suzana_jornalismo_digital_terceira_geracao.pdf>. BOGOST, I.; FERRARI, S.; SCHWEIZER, B. Newsgames: Journalism at Play. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. (cap. 1 e 9). BRADSHAW, Paul; ROHUMAA, Liisa. The Online Journalism Handbook. Skills to survive in the digital age. Harlow, England: Pearson, 2011. (cap. 4 e 5). BRADSHAW, Paul. A model for the 21st century newsroom, partes 1, 2 e 3. In: Online Journalism Blog, publicado em 17 de Setembro, 2007. Disponível em: <http://onlinejournalismblog.com/2007/09/17/a-model-for-the-21st-century-newsroom-pt1-the-news-diamond/>.

BRIGGS, Mark. Journalism Next: A Practical Guide to Digital Reporting and Publishing. Washington, DC: CQPress, 2010. BRIGGS, Mark. Jornalismo 2.0. Como sobreviver e prosperar. Um guia de cultura digital na era da informação. (Editado pelo Knight Center for Journalism in the Americas). 2007. Trad. Carlos Castilho e Sonia Guimarães. Disponível em: <https://knightcenter.utexas.edu/Jornalismo_20.pdf> FERNANDEZ, Maitê. Como a reportagem baseada em dados impulsiona o jornalismo inovador. Disponível em: <http://ijnet.org/pt-br/blog/como-reportagem-baseada-em-dados-impulsiona-o-jornalismo-inovador>. FILHO, Adelmo Genro. O Segredo da Pirâmide. Para uma teoria marxista do jornalismo. Porto Alegre, Tchê, 1987. 230 pp. (cap.IX): “O segredo da pirâmide ou a essência do jornalismo”. Disponível em: <http://www.adelmo.com.br/bibt/t196-09.htm>. GONZÁLEZ, Maria Angeles C. (Cood.). Evolución tecnológica y cibermedios. Sevilla: Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2010. (Colección Periodística). JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. (Trad.: Susana Alexandria). p. 25-51; 132-179. LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevistas e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2001. MACHADO, Elias. O Jornalismo Digital em Base de Dados. Florianópolis: Calandra, 2006. MENDONÇA JORGE, Thaïs de. Manual do foca. Guia de sobrevivência para jornalistas. São Paulo: Contexto, 2008. MICÓ; J.L.; MASIP, P.; BARBOSA, S. Modelos de convergência empresarial na indústria da informação. Um mapeamento de casos no Brasil e na Espanha. 2009. In: Brazilian Journalism Research, v.5, no1. Disponível em: <http://vsites.unb.br/ojsdpp/index.php> ORIHUELA, José Luis. 80 claves sobre el futuro del periodismo. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 2012. QUINN, Stephen. Convergent Journalism. The Fundamentals of Multimedia Reporting. New York: Peter Lang Publishing, 2005. (Cap.1) ROGERS, Simon. Facts are Sacred. The Power of Data. (Guardian Shorts). [E-Book]. London: Guardian Books, 2011. SAAD CORRÊA, Elizabeth. O mundo digital 2.0: integração, convergência e transformação. In: SAAD CORRÊA, Elizabeth. Estratégias 2.0 para a mídia digital. Internet, informação e comunicação. São Paulo: Senac, 2008. (2a ed.). p.143-188. SILVA, Fernando Firmino da. “Reportagem com celular: a visibilidade do jornalismo móvel”. In: SOSTER, Demetrio de Azeredo; TRÄSEL, Marcelo. A apuração distribuída como técnica de webjornalismo participativo. In: Anais VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor). São Paulo, novembro, 2008. Disponível em: <http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=763>. ZAGO, Gabriela da Silva. O Twitter como suporte para produção e difusão de conteúdos

jornalísticos. In: Anais IV Encontro Nacional SBPJor. São Bernardo do Campo (SP), 2008. Disponível em: <http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/individual44gabrielazago.pdf>. WARD, Mike. Jornalismo Online. São Paulo: Roca, 2007. (Tradução: Moisés Santos, Silvana Capel dos Santos, Tatiana Gerasimczuk). p.106-123; 125-153.
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS Comunicação Social - Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL
CAH290
Comunicação nos Movimentos Sociais Profa. Dra. Daniela Matos
68 68h 2015.2
EMENTA O conceito de movimentos sociais e a relação destes com a comunicação como configuradora da contemporaneidade. Os movimentos sociais na perspectiva das redes de movimentos. A importância da prática comunicacional para os movimentos sociais e a apropriação dos mecanismos de comunicação, para suas reivindicações, visibilidade, manifestações, ocupação de espaço e consolidação político-social. A globalização e os avanços tecnológicos como ampliação de espaço de atuação e reconfiguração de práticas políticas.
OBJETIVOS 1. Apresentar o conceito de movimento social, oferecendo várias abordagens teóricas sobre o tema. 2. Discutir a relação dos movimentos sociais com o sistema midiático. 3. Discutir as experiências contemporâneas da relação entre a mídia e os movimentos sociais, a partir das
práticas dos meios massivos e dos meios alternativos. 4. Discutir as práticas utilizadas pelos movimentos sociais em prol de sua visibilidade midiática. 5. Discutir a relação entre participação social e práticas políticas contemporâneas a partir das novas
tecnologias de informação e comunicação, com foco nas redes sociais tecnológicas e a internet.
METODOLOGIA
As estratégias didáticas a serem utilizadas abrangerão atividades de discussão conceitual de artigos e capítulos de livros, aulas expositivas e dialogadas. Exibição de documentários, seguida de debate. Apresentação de estudos de caso e experiências práticas de comunicação no âmbito de Movimentos Sociais pelos discentes.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Unidade I Participação social, Sociedade Civil e Movimentos Sociais (MS) no Brasil: breve histórico. MS, formas estruturantes e características principais. Redes de Movimentos e novas formas de associativismo. Unidade II Dimensão comunicacional dos MS: espaço de formação e consolidação da cidadania. Mídia hegemônica, mídia alternativa em interação com os MS. Práticas comunicacionais dos Movimentos: existência e visibilidade. NTIC´s, redes sociais tecnológicas e novos espaços participativos. Unidade III Estudos de Caso voltados para dois aspectos:
a. Construção midiática hegemônica sobre movimentos sociais contemporâneos. b. Estratégias contra-hegemônicas e alternativas no campo dos movimentos sociais e da participação política.
AVALIAÇÃO A avaliação será feita a partir de: 1. Prova Escrita Individual, com valor 10,0; 2. Seminário em dupla, com valor 4,0e 3. Artigo em dupla, com valor 4,0. Também será observada a frequência e participação nas aulas e atividades.

BIBLIOGRAFIA Básica: CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança- movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: ZAHAR, 2013. DOWNING, John D. H. Mídia Radical: rebeldia nas comunicações e movimentos sociais. São Paulo, Editora SENAC, 2002. 544p. GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais – paradigmas clássicos e contemporâneos 4ª Ed. São Paulo, Edições Loyola, 2004. 383p. MORAES, Dênis de (org). Comunicação virtual e cidadania: Movimentos Sociais e políticos na internet. Revista Brasileira de Ciências da Comunicação Vol. XXIII, nº 2, julho/dezembro de 2000. PERUZZO, Cicilia. Comunicação nos movimentos sociais: o exercício de uma nova perspectiva de direitos humanos. Revista Contemporânea - comunicação e cultura - v.11 – n.01 – jan-abril 2013 – p. 138-158 PINHEIRO, Roseane Arcanjo. Qual o lugar da mídia nos movimentos sociais e o espaço das questões sociais na mídia?.Copiado em 14/12/2009. Disponível em: <http://www2.metodista.br/unesco/agora/pmc_acervo_pingos_cohn_qual_o_lugar_da_midia.pdf> PAIVA, Raquel e RIBEIRO, Cristiano. Comunidade e contra-hegemonia: rotas da comunicação alternativa. Rio de Janeiro, Mauad X e FAPERJ, 2008. SCHERER-WARREN, Ilse. Das Mobilizações às Redes de Movimentos Sociais.– Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 21, n.1, p. 109-130, jan./abr. 2006 Complementar ALONSO, Angela. As Teorias dos Movimentos Sociais: um balanço do debate. Revista Lua Nova, São Paulo, 76: 49-86, 2009 COGO, Denise. Mídias, identidades culturais e cidadania: sobre cenários e políticas de visibilidade midiática dos movimentos sociais. Anais do Intercom. GURZA, Lavalle e Castello e Bichir. Quando novos atores saem de cena - Continuidades e mudanças na centralidade dos Movimentos Sociais. Cultura e Política, Revista de Sociologia Política, no 5, UFSC, Santa Catarina, outubro de 2004, pp. 35-53. HANNAH, AYOUB. Mídia e movimentos sociais: a satanização do MST na Folha de São Paulo. Estudos em Jornalismo e Mídia Vol. IV No 1 - 1o semestre de 2007 MACHADO, JORGE ALBERTO. Ativismo em rede e conexões identitárias: novas perspectivas para os movimentos sociais. Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 9, nº 18, jul./dez. 2007, p. 248-285 MAIA, ROUSILEY et al. Movimentos sociais, Internet e novos espaços públicos: o caso da DH Net. Revista Comunicação & Política, n.s., v.X, n.1, p.063-185 MORAES, Dênis. Comunicação alternativa, redes virtuais e ativismo: avanços e dilemas. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, vol. IX, n. 2, mayo – ago. / 2007 MIGUEL, LUIS FELIPE, Os meios de comunicação e a prática política. Revista Lua Nova, no. 55-56, 2006 TOURAINE, ALAIN. Na fronteira dos movimentos sociais. Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 21, n. 1, p. 17-28, jan./abr. 2006 PERUZZO, Cicilia. Revisitando os Conceitos de Comunicação Popular, Alternativa e Comunitária. Anais do XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006. VOLANIN, Leopoldo. Poder e mídia: a criminalização dos movimentos sociais no Brasil nas últimas trinta décadas. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/760-4.pdf
Aprovado em Reunião, dia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor(a) do Centro
____________________________________ Coordenador(a) do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL
Jornalismo
COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO TÍTULO CARGA HORÁRIA ANO
T P E TOTAL CAH 009
Oficina de Jornalismo Impresso I
34 51 85 2015.2
EMENTA
A estrutura da notícia: a notícia jornalística, a estrutura do texto, aberturas. Seleção léxica. Produção de texto noticioso.
OBJETIVOS
- Apresentar e discutir as noções básicas da atividade jornalística impressa - Aprofundar o conhecimento sobre a estrutura, os gêneros e as características fundamentais do texto noticioso - Conhecer a empresa jornalística, seus processos, estruturas, mecanismos, rotinas e hierarquias - Desenvolver a prática para a produção de notícias - Produzir o jornal-laboratório do curso.
METODOLOGIA
- Aulas expositivas e discussões de textos acadêmicos - Produção, leitura e análise de material noticioso - Produção, edição e avaliação crítica de jornal-laboratório.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- O projeto editorial e o Manual de Redação do jornal-laboratório Reverso - O discurso jornalístico: do fato à notícia - A estrutura de uma redação - O mercado da comunicação: suas perspectivas e desafios - A pauta e sua apuração: os critérios de noticiabilidade - A entrevista - O lead e o tempo no jornalismo - Os gêneros jornalísticos e esquemas narrativos - A manchete e outros títulos - Expressão gráfica - A fotografia no jornalismo - Questões de estilo e de atitude
- Os vícios de linguagem
- A opinião no jornalismo

AVALIAÇÃO
- Participação nas atividades propostas - Produção do jornal-laboratório
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA DINIZ, J. Péricles. O impresso na prática. Cruz das Almas: Editora UFRB, 2013. LOPES, Dirceu. Jornal laboratório: do exercício escolar ao compromisso com o público leitor. São Paulo: Summus, 1989. PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR ABRAMO, Cláudio. A regra do jogo. São Paulo: Companhia das letras, 1989. BELTRÃO, Luiz. Jornalismo interpretativo: Filosofia e Técnica. Porto Alegre: Sulina, 1976. COIMBRA, Oswaldo. O texto na reportagem impressa. São Paulo: Ática, 1993. DIAS, Vera. Como virar notícia e não se arrepender no dia seguinte. São Paulo: Objetiva, 1988 DINES, Alberto. O papel do jornal. São Paulo: Cia. Das Letras, 1990. ERBOLATO, Mário L.. Técnicas da codificação em jornalismo.Petrópolis: Vozes, 1984. KOTSCHO, Ricardo. A prática da reportagem. São Paulo : Ática, 1985. LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2001. ______ Linguagem jornalística. São Paulo: Editora Ática, 2002. MATTOS, Sérgio. Jornalismo, fonte e opinião. Salvador: Quarteto, 2011. MEDINA, Cremilda. Entrevista, o diálogo possível. São Paulo : Ática, 1986. MELO, José Marques de. A opinião no jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1985. SODRÉ, Muniz e FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem: notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986.
____________________________________ Coordenador do Colegiado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES
CENTRO COLEGIADO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS - CAHL JORNALISMO
COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO TÍTULO CAH-649 Temas Espec ia is em Fotograf ia
CARGA HORÁRIA NOME DO COORDENADOR / ASSINATURA ANO
T P E TOTAL
68 68 PROFESSORA: Dra. Juciara Nogueira 2015/2
EMENTA
Introdução à fotografia. Equipamentos e seus usos aliados a recursos digitais básicos e técnicas. Subsídios teóricos e emprego dos mesmos para a composição da imagem fotográfica com análise de resultados.
OBJETIVOS • Familiarizar o estudante com o uso de equipamentos aliados a recursos digitais básicos; • Analisar aspectos da vida e obra de renomados fotógrafos visando melhor compreensão de suas respectivas
contribuições para a fotografia; • Compreender os aspectos teóricos da composição fotográfica e empregar tais subsídios em trabalhos voltados
para a assimilação dos conhecimentos propostos; • Exercitar a autoavaliação de forma crítica e consciente.
METODOLOGIA
• Aulas expositivas. • Análise da vida e obra de renomados fotógrafos. • Trabalhos individuais e em duplas. • Exibição de documentário. • Apresentação, observação dos trabalhos realizados e debate sobre os resultados alcançados. • Autoaval iação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO UNIDADE I
1) Introdução à fotografia: aspectos históricos. 2) A câmara escura. 3) Equipamentos e seus usos (introdução). 4) Vida e obra de renomados fotógrafos (final do século XIX - meados do século XX). 5) Aspectos teóricos da composição (emprego de técnicas básicas). 6) Recursos digitais básicos (aspectos teóricos e práticos).
UNIDADE II
1) Equipamentos e seus usos (complementos). 2) Vida e obra de renomados fotógrafos (meados do século XX - início do século XXI). 3) Aspectos teóricos da composição (emprego de técnicas). 4) Recursos digitais básicos (aspectos teóricos e práticos).
AVALIAÇÃO
• Apresentação de estudos. • Prova escrita individual. • Realização de trabalhos empregando aspectos teóricos da composição.

• Autoavaliação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia. 4.ed. São Paulo: SENAC, 2005.
PRÄKEL, David. Composição. 2.ed.São Paulo: Bokman, 2013.
RORIZ, Aydano. 52 lições de fotografia digital. São Paulo: Europa, 2013.
___________________________________BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRAVO NETO, Mário. The eternal now. Salvador: Áries, 2002.
HACKING, Julliet. Tudo sobre fotografia. Rio de Janeiro: Sextante, 2012.
HOOKS, Margareth. Tina Modotti. Aperture másters of photography. Hong Cong, 1999.
JENKINSON, Mark. Curso de fotografia de retrato. São Paulo: Europa, 2012. MORRISROE, Patrícia. Mapplehorpe Uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 1996.
RAMALHO, Jose Antonio Alves; PALACIN, Vitché. Escola de fotografia. 4. ed. São Paulo: Futura, 2004.
SALGADO, Sebastião. Retratos de crianças do êxodo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
_______. Gênesis. Colonia, Taschen, 2013.
SCHINEIDER, Nobert. A arte do retrato. Obras-primas da pintura renascentista europeia. Lisboa: Taschen, 1997. 180 p.
SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo uma introdução à história, ás técnicas e à linguagem da fotografia na imprensa. Porto: 2002.
VERGER, Pierre. Retratos da Bahia. 3. ed. Salvador: Corrupio, 2002.
Aprovado em Reunião, d ia ______/_____/_____.
____________________________________ Diretor do Centro
____________________________________ Coordenador do Colegiado
Related Documents